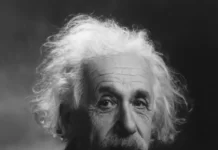A condição de existência de pretos e pretas, LGBTS e mulheres não lhes garante o monopólio da virtude, assim como a autoridade científica não é pessoal
Talvez o termo ‘lugar de fala’ seja, hoje, o mais vulgarizado no debate público. Inicialmente pertencente ao campo da análise do discurso, o conceito, inadequadamente, foi transformado em régua moral usada para qualificar e interditar determinadas falas, tomando como o critério o corpo daquele que está falando.
Rodrigo Perez Oliveira, professor de Teoria da História na Universidade Federal da Bahia
No seu significado original, “lugar de fala” é categoria cognitiva que parte de verdade óbvia: todo aquele que fala, fala a partir de um lugar na geografia da sociedade. Não existem falantes universais capazes de falar por todos. Toda fala tem pertencimento, é parcial.
Portanto, ao evocarmos o lugar de fala nosso objetivo deveria ser posicionar, localizar discursos, jogar luz sobre o lugar de onde o falante está falando.
“Peraí, eu tenho lugar de fala!”. Óbvio, cara pálida, todos temos!
Ingenuamente, a militância identitária moralizou essa discussão, como faz com quase tudo. Diz o identitário que pretos e pretas seriam mais legítimos para tratar do racismo. LGBTS mais legítimos para tratar de homofobia. Mulheres mais legítimas para denunciar o machismo.
Com essa leitura enviesada do conceito, identitários entraram numa roubada, numa situação de impasse da qual não conseguem sair, e nem conseguirão.
As forças do atraso aprenderam rapidamente como explorar a fragilidade do discurso identitário. É fácil, fácil encontrar um preto para reivindicar o fim do sistema de cotas, um LGBT para dizer que não existe homofobia no Brasil, uma advogada mulher disposta a defender publicamente jogador de futebol condenado por estupro.
Não à toa, o jogador Robinho contratou uma advogada mulher para fazer sua defesa política no tribunal moral das redes sociais. Os perversos não são burros.
A condição de existência de pretos e pretas, LGBTs e mulheres não lhes garantem o monopólio da virtude. O valor moral da fala não está no corpo do falante. Está no conteúdo discurso.

O mesmo podemos dizer para o médico que aparece na rede social denunciando a “vacina chinesa”, ou defendendo o uso da cloroquina como tratamento para a covid-19.
Nesta semana, o deputado bolsonarista Daniel Silveira (PSL/RJ) entrou em aeroporto portando atestado médico assinado por um dermatologista autorizando-o a dispensar o uso de máscara. Silveira se vangloriou de o médico já ter distribuído “mais de 20 iguais a esse”.
É fácil, fácil achar “doutor” disposto a endossar o negacionismo científico.
O “lugar de fala científico”, diferente do “lugar de fala”, não é apenas categoria de posicionamento discursivo. É, também, delimitação de autoridade científica.
Não basta portar diploma de médico para ter autoridade científica.
A autoridade científica não é pessoal, não pertence ao sujeito, ou ao diploma. É sempre institucional.
Quando a Fiocruz, o Butantan, a UFRJ, a UFBA, a USP falam, quem está falando é um colegiado de especialistas autorizados pela comunidade científica. Cientistas que têm seu trabalho fiscalizado por outros cientistas.
Em ciência, a fala autorizada não pertence aos sujeitos, mas, sim, às instituições.
Por isso, leitor e leitora, ao esbarrar com algum “doutor” falando na internet, sempre perguntem: qual instituição está autorizando essa fala?
Se não houver nenhuma, fiquem atentos, pois há o risco de a criatura estar mal intencionada, igualzinho ao preto que nega a existência do racismo, ao LGBT que diz nunca ter sido vítima de homofobia ou a mulher que afirma não precisar do feminismo.
Pessoas falam o tempo inteiro. Falam sobre tudo, falam qualquer coisa sobre tudo. Afinal, quem tem boca fala o que quer.
Uma das vocações da boca é falar.
Cabe a nós, que ouvimos, avaliar o que serve e o que não serve, e jamais nos deixar levar pela crença ingênua de que determinados falantes estão corretos simplesmente por serem o que são.

Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do Jornalistas Livres